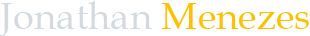OS CEGOS DO CASTELO

ESPIRITUALIDADE E PSICANÁLISE
janeiro 26, 2023
DOM PEDRINHO
maio 22, 2023SOBRE O CUIDADO DE SI E DOS OUTROS
Queria escrever sobre o cuidado de si; tinha muitas coisas em mente, mas não tinha ponto de partida. Tudo mudou quando eu me deparei com uma conhecida canção, de autoria de Nando Reis, chamada Os cegos do castelo (1997). Permita-me citá-la aqui:
Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor/ Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu/ Dos cegos do castelo me despeço e vou/ A pé até encontrar, um caminho, o lugar... pro que eu sou/ Eu não quero mais dormir/ De olhos abertos me esquenta o sol/ Eu não espero que um revólver venha explodir/ Na minha testa se anunciou/ A pé a fé devagar, foge o destino do azar que restou/ E se você puder me olhar, e se você quiser me achar/ E se você trouxer o seu lar.../ Eu vou cuidar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar do seu jardim/ Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele, eu vou cuidar/ Eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim
Antes de mais nada, em um dado momento, lendo e ouvindo a canção, teve algo que me tocou e me emocionou profundamente. Quando isso acontece, é difícil dizer o que exatamente causou a emoção, já que música tem esse poder. Bem, então eu fui reler a letra e buscar gatilhos que despertaram a emoção. E, na medida em que fui relendo, eu fui encontrando alguns imperativos na poesia, que, creio eu, podem ser muito inspiradores e úteis (juntando aqui um pouco das duas coisas) para pensarmos a questão do cuidado e, mais particularmente, do cuidado de si e dos outros.
O primeiro imperativo é o de não mais mentir. Eu acho que consigo entender o sentimento por trás desse imperativo, ou o desejo profundo por trás dele. Ainda pequenos, aprendendo valores para a vida (normalmente com nossos pais), aprendemos que mentir é errado, sem muitas explicações. Se você foi criado/a em uma atmosfera religiosa cristã, também aprende que não é apenas errado, como é pecado contra Deus, e que o Diabo é que é “mentiroso e pai da mentira” (clássica citação de João 8.44). Mas o lance é que a gente só entende bem isso quando a mentira adentra os portais da nossa vida e faz morada ali. E, como diria a clássica frase do ‘doutor House’ (o médico, protagonista da série que leva seu nome), “todo mundo mente” (everybody lies), até mesmo o papai e a mamãe (que primeiro nos ensinaram que mentir é errado), e até mesmo o pastor/padre, que prega sobre isso.
A mentira pode ocupar tanto a vida de uma pessoa que se torna patológica, é verdade; mas não é preciso patologizar a mentira sempre, pois sabemos que as pessoas mentem, a começar por dizer que não são mentirosas. Assim como ninguém pode dizer que não é pecador sem ser um mentiroso (como diria João em sua primeira carta), também ninguém pode dizer que não é assombrado pela mentira sem parecer ser, de fato, as duas coisas: um pecador-mentiroso. Ou seja, tem gente que mente por compulsão, por vício (e isso é doentio), mas em geral as pessoas mentem (ao menos para si mesmas, e mesmo sem ter consciência) para se esconder ou se proteger por trás de uma fachada, isto é, como um mecanismo de defesa.
Esse parece ser o caso do poeta ao narrar a primeira estrofe da canção. O desejo de não mais mentir é oriundo de um sofrimento, às vezes de origem desconhecida; para me livrar dele, eu lanço mão de espinhos, que aqui servem como forma de proteção de meu ego fragilizado, mas que geralmente só causam dor, tanto na pele de quem recebe, como na de quem lança. É como diz o ditado: “pessoas feridas ferem outras pessoas” (hurt people, hurt people). Por que isso acontece? A canção mesma dá uma resposta possível: elas já não enxergam mais o inferno que as atraiu. A ferida se tornou parte de seu modo de ser, e o inferno, seu habitat natural.
A saída para esse ‘quiproquó’, dessa vida de engano, dessa existência infernal, segundo a canção, é despedir-se dos “cegos do castelo” (uma coisa que só a pessoa pode fazer por si mesma), deixar a condição de menoridade e falsidade a que ela mesma se submeteu como modo de sobrevivência, em busca de algo mais, em busca de vida, em busca de um caminho, de um lugar, para o ser que eu sou.
Há pelo menos dois caminhos, portanto, segundo essa estrofe da música: o caminho e o lugar para uma existência falsa ou para um ‘falso-eu’, e o caminho e o lugar para uma existência autêntica, aquela na qual eu posso ser o que eu sou, o ser do meu desejo e, quem sabe, o de Deus. Sobre isso, peço permissão para uma extensa citação de Thomas Merton extraída de seu livro Homem algum é uma ilha (2021):
O profundo mistério do meu ser é-me, frequentemente, oculto pelo conceito que faço de mim mesmo. A ideia que faço de mim mesmo é falsificada pela admiração que tenho por meus atos. E as ilusões que acalento a meu respeito são produzidas pelo contágio das ilusões dos outros homens. Cada qual procura imitar a imaginária grandeza do outro. Se não me conheço, é que penso ser a espécie de pessoa que meu círculo desejaria que eu fosse. Talvez nunca me tenha perguntado se realmente desejo ser aquilo que os outros parecem querer de mim. Se somente me desse conta de que não admiro o que todos parecem admirar, talvez começasse a viver realmente. Ver-me-ia liberto do doloroso dever de dizer o que realmente não penso e de agir duma forma que atraiçoa a verdade de Deus e a integridade da minha alma. (...) Considero a vida espiritual como a vida do verdadeiro eu do homem, a vida desse eu interior, cuja flama, tantas vezes, consentimos em ver abafar sob as cinzas da angústia e dos mais fúteis cuidados. Orientada para Deus, e não para as necessidades materiais, a vida espiritual nem por isso é uma vida irreal ou uma vida de sonhos. Bem ao contrário, sem a vida do espírito, é a nossa existência toda que se torna inconsistente e ilusória. Integrando-nos na ordem de coisas estabelecidas por Deus, a vida do espírito nos põe no mais pleno contato com a realidade, não como a imaginamos, mas tal qual é em si mesma. Isto, graças à percepção que ela nos dá de nossa verdadeira identidade, que ela coloca, em toda a sua realidade, na presença de Deus. É uma empresa difícil que exige uma vida inteira de genuína humildade. Mas devemos, mais cedo ou mais tarde, distinguir entre o que não somos e o que somos. É preciso aceitar o fato de não sermos o que gostaríamos de ser e rejeitar o nosso eu falso e exterior, como a uma veste de pura aparência. Devemos encontrar o nosso eu real, em sua pobreza elementar, mas também em sua dignidade, muito grande e muito simples: criatura destinada a ser filho de Deus e capaz de amar com um pouco da própria verdade e generosidade de Deus.
Prosseguindo com minha reflexão, para que essa empresa seja possível, é necessário lançar mão de um segundo imperativo, o de abrir os olhos. “Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol”. Todos vocês já devem ter ouvido a expressão popular “dormir no ponto”. Ela, em geral, quer expressar um simples vacilo, que eventualmente faz a gente perder o ônibus, ou perder a noção; mas pode também ser signatária de uma vida alienada de si mesma, de seus mais profundos desejos, dos demônios que lhe habitam, que em nossa cegueira não nomeamos, dos quais nos tornamos meros escravos ou simplesmente seguimos andando, como sonâmbulos, sujeitos a ser assaltados por males que a gente simplesmente não vê vindo porque não estávamos prestando atenção.
Para muitos ministros e pastores, por exemplo, o ministério é tudo: sua paixão, seu propósito, sua razão de viver, o lugar em que investem quase todas as suas energias, restando pouco para si mesmos e até mesmo suas famílias. Eis um dos paradoxos do cuidado: pessoas que investem suas vidas no cuidado de outras, mas que não estão com os olhos suficientemente abertos para o necessário cuidado de si mesmas. Nem elas, às vezes nem suas famílias, menos ainda suas comunidades ou igrejas. O cenário, tantas vezes, estava anunciado em suas testas, como diz a segunda estrofe da canção, ainda assim ficaram à espera do revólver que explodiu, porque, mais hora menos hora – se a gente subestimar a pólvora e os gatilhos – ele explode. Estou aqui, obviamente, falando de saúde mental. Estou aqui falando figuradamente sobre males que atingem uma grande porcentagem de pastores/as nos dias de hoje, como esgotamento, ansiedade, depressão e, como corolário, o suicídio. Não preciso dar números aqui (há muitas pesquisas recentes que os fornecem). Ao invés, quero ler parte de um relato (publicado na Christianity Today, em 2020) de Kayla Stoecklein, viúva do pastor Andrew Stoecklein, que cometeu suicídio em 2018:
Muitos pastores e pessoas que servem em posições ministeriais lutam com questões de saúde mental. E, infelizmente, nem sempre sentem que há espaço para compartilhar suas lutas com colegas de ministério ou membros da igreja. O medo de perder o emprego, o púlpito, a voz e o respeito de seus colegas é uma realidade bem concreta. Pela minha experiência com Andrew, aprendi como é importante para a igreja formar líderes para atender pastores e pessoas que servem em posições ministeriais, quando estes inevitavelmente se encontrarem em um período de fadiga ministerial. Todos os pastores precisam de um círculo seguro de pessoas, com as quais possam ser vulneráveis. Eles precisam de amigos próximos e de uma comunidade de confiança, na qual possam baixar a guarda, tirar o chapéu de pastor e ser eles mesmos. Andrew costumava dizer: “É solitário aqui no topo”. Mas não precisa ser. Não fomos criados para viver sozinhos; isso não funciona. Um pesado fardo de responsabilidade está ligado a essa solidão. Andrew costumava se referir a si mesmo como o “eixo”, a pessoa que mantém tudo unido. Constantemente e com amor, eu lhe apontava de volta Jesus e o fazia lembrar quem realmente era o eixo. Quando servimos em uma posição ministerial, é crucial que a liderança seja vista como um trabalho em equipe. Se não permitirmos que outros nos ajudem a carregar o fardo, desmoronaremos sob a pressão.
Se você conversar com um irmão ou irmã que serve no ministério pastoral, e pedir para que nomeie uma questão que o aflige no dia a dia, é bem provável que em algum momento apareça a seguinte queixa: “eu me sinto muito só”. Se por um lado esse me parece ser um sentimento comum e até mesmo inevitável (até porque há uma dimensão da trilha de nossa alma em que ela, necessariamente, caminha só, o que não é diferente com pastores), por outro, como bem colocou Kayla, não precisa ser assim sempre. Por isso é preciso abrir bem os olhos.
Igrejas precisam abrir os olhos em relação ao necessário cuidado com seus pastores e líderes. Antes de tudo, precisam vê-los como seres humanos, que possuem fragilidades iguais e às vezes até maiores que as das pessoas que são pastoreadas por eles/as. E não precisa de muito. Por exemplo, no ano passado eu fui surpreendido por dois irmãos de minha comunidade, que me procuraram simplesmente para perguntar: “Jon, o que é que a gente pode fazer por você para tornar o teu fardo mais leve? A gente não sabe muito como ajudar, mas queremos andar mais perto de você”. Em outras palavras, o que eles estavam me dizendo é: “nós enxergamos você como um ser humano, e queremos dizer que você não está totalmente sozinho nessa”.
Pastores também podem/devem abrir os olhos, podem seguir com fé, a pé e devagar (como diz a canção). Não precisam esperar que o revólver venha explodir. Podem escolher pessoas de confiança com quem conversar, nem que seja um terapeuta ou analista semanalmente (foram incontáveis as vezes em que a minha analista representou o cuidado de Deus para mim, e em que vi nos olhos dela a face oculta de Cristo). O preço que nós pagamos, como pastores, como teólogos, como igreja, por desconsiderar a pesquisa psicanalítica e a importância do divã na vida de pastores (e de todo crente também) é de nos tornamos “joguetes nas mãos destino” (Winnicott), do inconsciente, das doenças que afligem a alma e que não saem só com oração e muita fé, e do próprio sistema religioso, que exige da gente performance, mas que pouco se preocupa com a contraparte de cuidados a quem cuida dos outros.
“Não podemos ser nós mesmos”, diz outra vez Thomas Merton, “sem que nos conheçamos primeiro. Mas esse conhecimento é impossível quando uma atividade irrefletida e automática mantém a alma em confusão. Para que nos conheçamos, não é preciso cessar toda atividade e concentrar a reflexão em nós mesmos. Seria inútil e, provavelmente, muito prejudicial. Mas precisamos reduzir a atividade até poder pensar, calma e razoavelmente, em nossas ações”. Ritmo é a palavra.
Esse é um momento oportuno para citar a última estrofe da canção, onde encontramos o último imperativo (que resume os demais): o de cuidar. “E se você puder me olhar, e se você quiser me achar. E se você trouxer o seu lar... Eu vou cuidar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar do seu jardim. Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele, eu vou cuidar. Eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim”. De modo muito interessante, o poeta associa o cuidado (nas coisas básicas e o cuidado mútuo) ao jardim de alguém. Mas essa não é a primeira poesia a fazer isso, nós sabemos, certo? Gênesis 2.8: Deus planta um jardim no Éden, e o dá ao ser humano, como forma de cuidado, mas também com o imperativo de cuidado. O ser humano deve podar, regar, cuidar desse jardim. Ao fazer isso, estaria também cuidando de si, na mutualidade da relação consigo, com o próximo, com a criação e com Deus. E o que é o cuidado senão o cultivo da vida?
“Cuidado” é uma palavra que vem do latim coera, em português: “cura”. Ou seja, em sua forma antiga, a palavra “cura” era usada para a ideia de curar, de curadoria, de cultivo, de cuidado diário, constante. Era usada também em um contexto de relacionamento de amor e amizade, em que um se preocupa e se inquieta pelo bem-estar do objeto ou da pessoa amada. A partir do século XVIII é que a palavra “cura” foi transfigurada, deixando de ser sinônima de cuidado e passando a ser de desfecho bem-sucedido para doenças ou como erradicação de males.
Quem aponta isso é o psicanalista inglês Donald W. Winnicott, chamando atenção ao fato de que, gradativamente, o cuidado passou a ser ministrado em função da cura (isto é, da erradicação dos males) e não como uma forma (preventiva) de cura. Assim também foram sendo transfiguradas as artes de cuidar (entre as quais podemos inserir o pastorado), passando a existir em função dessa meta: diagnóstico-tratamento-solução ou erradicação do mal. A especialização (médica, por exemplo) surge como tentativa de dar conta da “vastidão desse campo”. Para o bem e para o mal, porém, sabemos cada vez mais que ela não dá conta. Especialmente quando a raiz do problema está na alma, que por sua vez está interligada ao corpo.
Por mais que seccionemos o humano em partes (cada especialidade cuidando de uma), ninguém (nem mesmo os especialistas) hoje pode negar que somos esse todo interligado, de modo que o ideal é que esse cuidado siga cada vez mais uma abordagem holística – e os pensadores (diz Winnicott) é quem devem se responsabilizar por propor pontes, que ajudem às diferentes formas de curadoria (médica, psicológica, pastoral, etc.) a entender que esse “eu sou” sobre o qual falamos aqui é, simultaneamente, orgânico, psíquico, corporal, espiritual. Logo, “cuidar do seu jantar”, como diz a poesia, pode ser a melhor forma de cuidar de você naquele dia.
Aliás – dizendo à guisa de conclusão dessa reflexão –, qualquer noção de espiritualidade (para falar do nosso campo) na qual se dispensa essa abordagem holística ao humano, tornou-se, para mim, uma noção dispensável. À luz do que foi dito (e do que não foi, por falta de espaço), afirmo que quero uma espiritualidade (e uma pastoralidade também) que seja bem consciente em relação à multidimensionalidade da vida humana e que se converta, como consequência, em formas de cuidado também multidimensionais. O que a gente não sabe ou não dá conta, a gente encaminha, encoraja e acompanha, sem subestimar área nenhuma.
Estou falando de uma espiritualidade segundo o qual a devoção e o relacionamento com o Eterno se presentifiquem (como na origem, no Éden) nos múltiplos cuidados do dia a dia, com o temporal, o corporal, o psíquico, o sócio-cultural e o político. Em que “comer, amar e rezar” (para usar o título de Elizabeth Gilbert) façam parte de uma mesma dança de cura, de cuidado, do ‘eu’ até o outro, do humano à terra que a gente habita junto com toda a criação. Uma espiritualidade, por assim dizer, natural.
Finalizo parafraseando as palavras de Donald Winnicott (1970), mudando um pouco algumas palavras para endereçar a perspectiva pastoral:
Sugiro que encontremos, no aspecto cuidar-curar de nosso trabalho profissional (pastoral), um setting (ou ambiente) para aplicar os princípios que aprendemos no início da vida, período de imaturidade em que nos foi dado um cuidar-curar suficientemente bom, e uma cura, por assim dizer, antecipada (o melhor tipo de medicina preventiva) por nossas mães suficientemente boas e por ambos os pais. É sempre reconfortante descobrir que nosso trabalho se vincula a fenômenos inteiramente naturais, ao universais e, enfim, àquilo que esperaríamos encontrar no melhor da poesia, da filosofia e da religião.
Jonathan Menezes