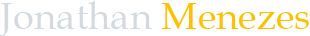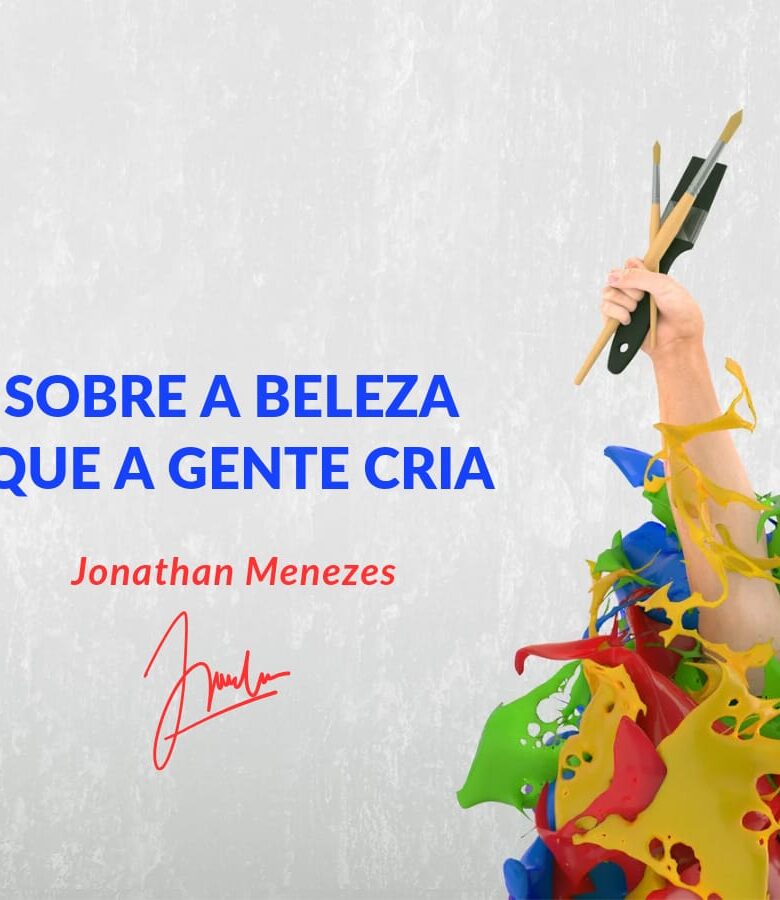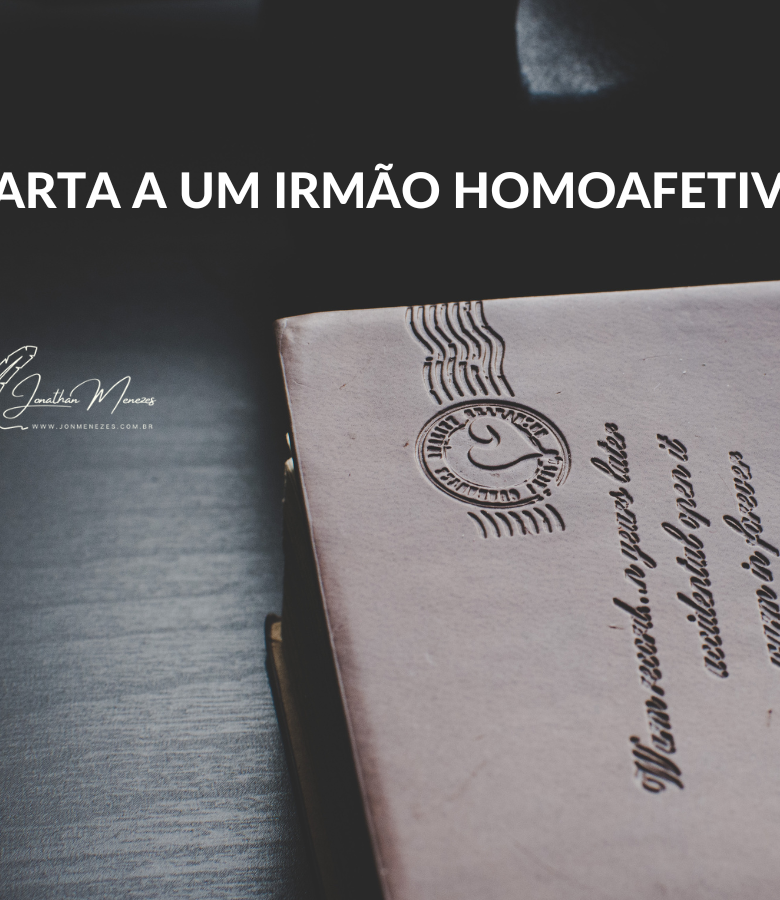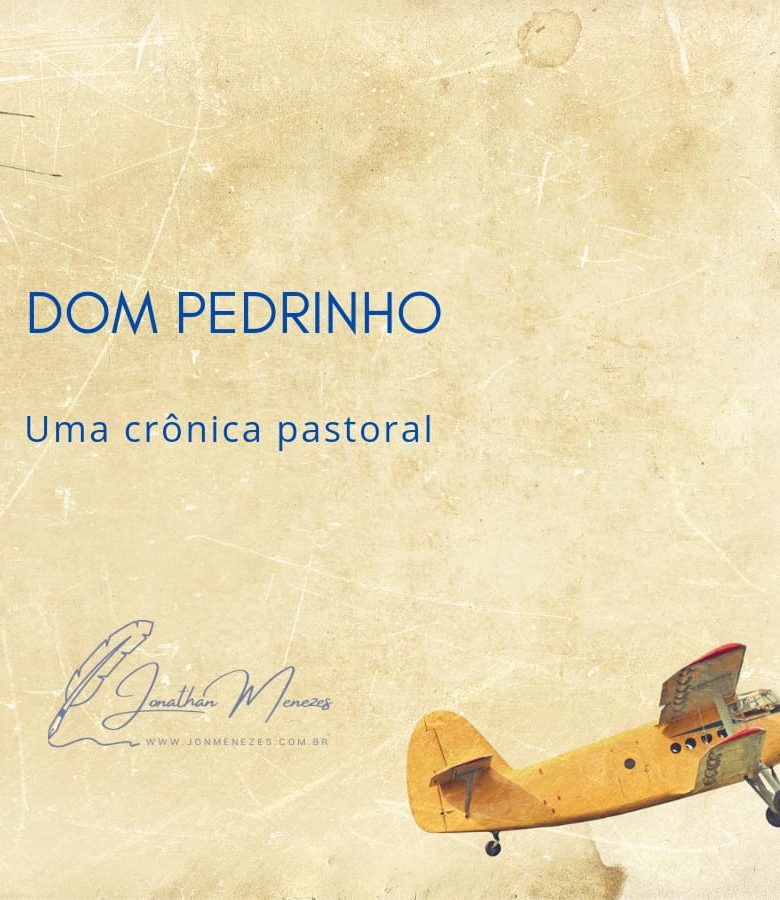A EMERGÊNCIA DO MONSTRO

UMA MÍSTICA QUE CURA
maio 24, 2022
A RACHADURA ESSENCIAL
julho 20, 2022UMA NOTA AUTOBIOGRÁFICA
Relutei em falar ‘dele’. Menos, é claro, do que reluto em falar de mim. Eis uma frase, logo de cara, enganosa. Ele e eu somos um. Falo do monstro, logo, falo de mim também, ou de uma dimensão de meu ser normalmente oculta ao resto do mundo.
Relutei, principalmente, depois que cheguei em análise empolgado para falar da emergência do monstro – tal como no romance de Robert Louis Stevenson, O médico e o monstro: o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886/2015) –, e fiz associações livres sobre a relação entre a personagem principal, Dr. Jekyll, e sua versão indesejada, Mr. Hyde, com a minha própria história recente, para ouvir o seguinte feedback de minha analista: “Isso tudo está ainda muito pouco humano, Jonathan. Por que, para falar de suas sombras, você precisa falar em termos de monstruosidade?”. A pergunta de fundo parece ser: será a humanidade (com suas pulsões e desejos) monstruosa?
“Esta pontuação está certa”, pensei. “Mas, talvez, só parcialmente certa”, pensei de novo. Pois o problema que me atravessou não reside propriamente em ver o humano como essencialmente monstruoso – como as inúmeras variantes da teoria do “pecado original” fizeram parecer por parte da história interpretativa judaico-cristã. Como se, no que concerne ao humano, a primeira palavra ou o verbo de origem tivesse sido de maldição e não de bênção (como as narrativas de Gênesis 1 e 2, no Antigo Testamento, atestam). Ao contrário, o problema reside em querer extrair inadvertidamente o monstro de dentro do humano. Como fez Dr. Jekyll com a ‘parte indesejável’ de si mesmo, e, acrescento, como eu fiz muitas vezes ao longo de minha vida.
É uma questão semântica de fato – pensar o monstro como uma representação ora fidedigna, ora indigna (porque caricata, porque diminuidora) do humano. Mas se retirarmos o monstro do terreno movediço do real – de quem diz: “Fulano é um monstro” – e o transportamos para o universo fantasista da representação – dizendo: “parte de mim pode ser representada pelo monstro” –, logo, quem sabe, possamos conviver de maneira menos conflituosa com a ideia, não? Nesse sentido, pressupor a emergência do monstro não me faz menos humano, mas humano apenas (a depender da conotação dada à palavra ‘monstro’). Sem pretender ter resolvido completamente o imbróglio – afinal, como o título diz, esta é apenas uma ‘nota’, um bilhete –, quero me voltar agora à parte autobiográfica ou autoanalítica.
Eu disse de passagem que a tentativa inadvertida de extrair a parte indesejável de si mesmo (a que, eventualmente, emergiu como monstro) é o elemento que une minha experiência à de Dr. Jekyll. Une por meios distintos, é claro – afinal, ele inventou uma poção, enquanto eu inventei inúmeras artimanhas para ‘parecer’ de tal ou qual modo –, e, ao mesmo tempo, por razões muito parecidas, a saber: o desejo de ser somente bom. O destaque à palavra ‘somente’ aqui não é fortuito; é para implicar que o desejo de ser bom nos humaniza, enquanto o desejo de ser bom pelo sacrifício da parte sombria, que também nos constitui (e que a Bíblia chama de ‘pecado’), é desumanizante – ainda que possa ser um ato justificado dentro do espectro da humanidade. E, nesse aspecto, a tese aqui condiz com a visão de minha analista: chamar minha sombra de monstro ou de ‘mal a ser extinto’ é uma forma de desumanizar-se, por uma razão bíblica também: não há ser humano que faça apenas o bem. Repetindo-me, portanto: a tragédia de Jekyll (e de Jonathan) não reside no anseio por bondade (que, segundo Gênesis, é divino), mas por perfeição.
E “perfeição demais”, diria Zélia Duncan em sua canção Carne e osso, “me agita os instintos”. Pois “quem sem diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso”, ou seja, para não ser humano querendo ser deus – o velho problema de nossos ancestrais míticos, Adão e Eva, batendo à porta outra vez. A contradição implicada em tal ato é que ela nos afasta do divino e do humano simultaneamente, e promove, por conseguinte, a emergência do monstro, que antes coexistia dentro e agora passa a querer cada vez mais habitar fora de nós, em progressiva substituição ao e aniquilação do humano. Voltarei ao ponto no final.
Para dar um exemplo pessoal, é como quando seus pais tentam e conseguem colar em você um rótulo (ou um ‘significante’, como diria Jacques Lacan), como o de ‘compreensivo’, e este passa a ser inconscientemente um dos significantes que o marca e o aliena ao desejo de seus pais. E a este significante vão se associando outros, como numa cadeia (tanto de encadeamento mesmo, como de prisão), isto é: ao rótulo ‘compreensivo’ podem ser associados (em minha própria história) tanto o de ‘pessoa boa’ (porque compreende e afaga), como o de ‘passivo’ (porque compreende e aceita sem protestar), como o de ‘conhecedor’ (porque compreende e conhece), como o de ‘professor’ (porque compreende e ensina), como o de ‘pastor’ (que compreende e cuida) e assim por diante. Veja como um significante migra do campo da pessoalidade para o campo dos papéis sociais, e me parece bastante natural que migre.
O problema é quando nossa identidade se cola a essa cadeia de significantes de um modo a fazer parecer (para nós e para os outros) que somos e/ou temos de ser apenas ‘aquilo’, não restando muito espaço para o nosso ‘isso’ (para enunciar Georg Groddeck). Ou seja, com pouco espaço na esfera do ‘menino compreensivo’ para a falta de compreensão, bem como para a presença de outros elementos que também o constituem, como o desejo de ser menos compreensivo em tal ou qual situação, a fim de afirmar o seu desejo; ou o desejo de ser mais que compreensivo, a fim de tornar-se o ser de seu desejo e não apenas o de seus pais, familiares, educadores, amigos etc. Em outras palavras, ninguém é somente isso ou somente aquilo, mas um emaranhado complexo e multifacetado de ‘issos’ e ‘aquilos’ inventados por si mesmo e pelos outros. Ou, seguindo a ordem freudiana, primeiro pelos outros (o ‘eu-ideal’) e, em seguida, por si mesmo a partir do referencial dos outros (o ‘ideal-do-eu’). Parafraseando Contardo Calligaris (2019), nós somos aquilo que conseguimos convencer a nós mesmos e aos outros que somos. A identidade é, portanto, não algo dado, mas um constructo. Entretanto, permanece o fato de que a confluência entre um ideal de ‘eu’ muito exigente consigo mesmo, com a impossibilidade óbvia de isolá-lo de suas partes menos ideais e, portanto, indesejáveis, é uma das condições de possibilidade para a emergência do que Stevenson chamou de ‘monstro’.
É notável, porém, que tal monstro, na belíssima parábola deste autor, tinha nome: Edward Hyde. Era o próprio Dr. Jekyll, mas com uma aparência transfigurada, corpulenta, fisicamente mais forte, de personalidade imprevisível, mais autêntica e pujante, podendo até – como foi o caso na história – cometer atos extremos de violência às outras pessoas sem grandes constrangimentos e sem ressaca moral no dia seguinte. Era uma espécie de ‘Id’ ambulante, um caos em pessoa ou “um caldeirão cheio de excitações fervilhantes” (Freud, 1933/2010, p. 215), só que a céu aberto, para quem quisesse ver. E o que foi que fez com que emergisse dessa forma? Não uma repressão ao nível do inconsciente, mas uma delirante tentativa de aniquilação por parte de Henry Jekyll. Por não conseguir eliminar seu lado sombrio e imperfeito por força de vontade, tentou fazê-lo de maneira arbitrária e acabou causando não apenas a emergência do monstro, mas também o extermínio de si mesmo com o monstro.
O problema de origem, portanto, parece ser o de não-aceitação da própria humanidade com todo o arsenal presente neste pacote, no qual vige tanto um impulso de vida como uma ‘pulsão de morte’, para enunciar Freud em Além do princípio do prazer (1920/2010). Comentando esse opúsculo freudiano, Lacan observou de modo perspicaz que numa mesma psique podemos encontrar “vontade de destruição”, sim, mas também “vontade de recomeçar com novos custos” ou “vontade de criação a partir de nada, vontade de recomeçar” (Lacan, 1988, p. 259-260). Ou seja, no mesmo processo em que alguém é movido pelo impulso de queimar pontes previamente percorridas, também pode haver o impulso de construção de novas pontes e novos caminhos. O impulso de destruição, assim, acompanha a vontade de superação, de modo que renegar uma parte pode implicar em impossibilitar a outra.
Ademais, a ideia de “recomeçar com novos custos” pressupõe que sempre haverá um custo; o princípio do prazer sempre será atravessado pelo princípio de realidade. Conforme Freud, para evitar o malogro da aniquilação é preciso, assim, que o eu exerça a função de “mediar entre as exigências do Id e as objeções do mundo exterior”. Que se torne, portanto, um ser adaptável sem deixar de dar ouvidos à voz de seus desejos íntimos. E, para além da adaptação, segundo Freud (1926/2014, p. 115),
Pode-se intervir de maneira transformadora no mundo exterior, nele produzindo intencionalmente as condições que possibilitam a satisfação. Essa atividade se torna, então, a suprema realização do Eu; decidir quando é mais adequado controlar suas paixões e curvar-se ante a realidade, ou tomar o partido delas e opor-se ao mundo exterior, constitui a essência da sabedoria de viver.
A palavra de ordem implícita nesta passagem em Freud é equilíbrio. Se viver a partir dos extremos – optando maiormente ora pela satisfação do desejo (princípio do prazer), ora pelo controle rígido das paixões (princípio da realidade) – coloca o eu em uma zona permanente de conflito até praticamente aniquilar-se em um dos flancos da batalha, a sabedoria mostra que é necessário aprender a dançar entre todas as instâncias psíquicas sem desprezo de uma em detrimento do reforço de outra. Até porque o monstro antes de emergir como tal, em nosso universo representacional, era provavelmente uma faceta de nossa psique ensejando seu lugar ao sol. E essa ‘sabedoria de viver’ presente em Freud é um eco da sabedoria antiga, por exemplo, presente no livro de Eclesiastes (Antigo Testamento), que diz: “Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade. Mas tome cuidado: tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade! É bom não radicalizar e ter equilíbrio” (Ec 7.15-18, A Mensagem).
Referências bibliográficas
CALLIGARIS, Contardo. As relações humanas hoje: bem-estar em um mundo contraditório. Curso online. São Paulo: Casa do Saber, 2019.
FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In: Obras completas, vol. 14: História de uma neurose infantil; além do princípio do prazer e outros textos (1917-1920). Trad. Paulo César de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp. 120-178.
FREUD, Sigmund. A questão da análise leiga: diálogo com um interlocutor imparcial. In: Obras completas, vol. 17: Inibição sintoma e angústia; O futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929). Trad. Paulo César de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, pp. 124-218.
LACAN, Jacques. O seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
PETERSON, Eugene. A Mensagem. Bíblia em linguagem contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.
STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro – O estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. São Paulo: Penguin; Companhia das Letras, 2015.